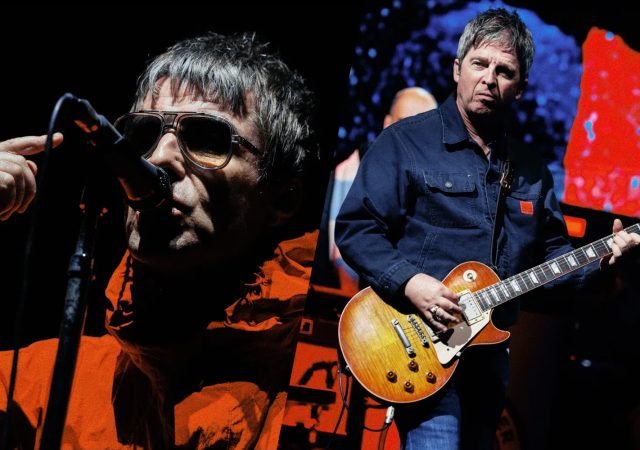Vontade e obrigação são coisas distintas, mas que, em alguns casos, conseguem causar uma boa confusão em nossas cabeças.
Por anos, escrever sobre música foi uma vontade. Uma boa parte dela nasceu de um desejo genuíno de mostrar às pessoas próximas tudo aquilo que eu ia encontrando em blogs, ouvia e gostava. Foi assim que um singelo espaço com layout mal diagramado no Blogspot — feito só para amigos — foi crescendo e teve diversos nomes até se tornar o que hoje podemos chamar de Audiograma.
Com o passar do tempo, minha percepção sobre essa ideia e minha relação com o “dizer sobre música” se transformaram. Aquela vontade pessoal virou um projeto profissional e, ainda que tenha me feito feliz por um tempo, hoje percebo que essa vontade passou a ser encarada como uma obrigação — afinal, eu tinha um projeto legal e queria vê-lo prosperar. Foi nessa virada de chave que tudo se perdeu, se assim podemos dizer.
O prazer de ouvir algo e escrever sobre isso acabou se transformando em uma tarefa. Seja por conta de algum conteúdo vinculado ao site ou por uma satisfação pessoal completamente descabida de “ouvir o máximo de álbuns possíveis”. O desgaste natural — que demorou a ser percebido — era inevitável. E, quando o prazer e a vontade se esvaíram por completo, veio a percepção do que o elefante tinha feito com a minha sala de estar.
O peso da velocidade
De acordo com pensamentos aleatórios tirados da minha cabeça, isso também é reflexo de como eu vejo o ato de “falar sobre música” nos dias atuais.
Assim como eu, você também deve saber que não basta apenas ter algo a se dizer sobre um álbum novo. Performar nos buscadores demanda um texto com SEO bem estruturado, trechos marcantes e virais para circular nas redes sociais. Além disso, publicá-lo nas primeiras horas do lançamento — para não correr o risco de o conteúdo “envelhecer”. Se puder transformar o seu texto em vídeo ou podcast então, perfeito.
Essa velocidade de consumo fez com que algumas leis fossem criadas, ainda que elas atuem de uma forma subliminar. Falar sobre um álbum três meses após o lançamento virou quase um crime. Até porque, nesse tempo, é provável que o disco já tenha rendido duas versões deluxe mega blaster ultra premium, com capas alternativas, faixas extras e remixes para impulsionar suas vendas e performance nos charts.
Somando a isso os inúmeros lançamentos semanais e chegamos a um impasse: será mesmo que eu preciso ou dou conta de ouvir sessenta álbuns inéditos toda sexta-feira? É realmente necessário falar de tudo ao mesmo tempo? Isso é positivo?
A resposta parece óbvia e talvez por isso tenhamos visto o ressurgimento dos chamados “veículos de nicho”, algo comum nos blogs dos anos 2000 e que se perdeu diante dessa necessidade quase imposta de onipresença.

Streaming: o presente que molda o consumo
Muito se fala das redes sociais e de como elas aceleraram o consumo cultural, mas é preciso lembrar que esse processo foi alimentado com a mesma intensidade pelas plataformas de streaming.
A busca pelo “hype do momento” criou uma necessidade quase social de estar sempre atualizado. Como lidar com o almoço ao lado dos colegas de trabalho quando todos comentam uma série que eu não vi? Qual assunto levar ao Twitter (me recuso a usar o outro nome) se eu ainda não ouvi o “álbum da semana”? Vou aproveitar para ir ao banheiro quando os amigos começarem a falar daquele podcast que não conheço na mesa de bar?
A verdade é que o streaming causou danos quase irreversíveis no modo de consumir — e de se comportar. No caso da música, há uma pequena vantagem: as gravadoras e artistas ainda não seguiram o caminho dos grandes estúdios de TV e cinema, que criaram seus próprios serviços. Já pensou se a Taylor Swift decidisse disponibilizar seu catálogo apenas no Spotify? Ou, pior, criasse o Swiftfy? E se a Sony Music resolvesse lançar sua própria plataforma? Como ficaria o artista que passou por várias gravadoras? Você teria de assinar várias delas para ver a sua obra completa?
Ainda que possamos comemorar que isso — por enquanto — não aconteceu, o streaming vem moldando profundamente nossa forma de ouvir música. Quando não é o algoritmo que te prende nas mesmas playlists criadas por IA, é a necessidade imposta ao artista de lançar novidades constantemente para não ser “esquecido”.
Falando em IA… Acho que temos muito o que conversar sobre, hein?!
A arte transformada em produto
Em meio a um cenário em que o sucesso é medido por engajamento, alcance e frequência de lançamentos, muitos artistas têm direcionado seus esforços mais à manutenção da própria imagem do que ao amadurecimento musical.
A lógica das redes e do streaming estimula a criação constante de versões, remixes e conteúdos derivados da mesma obra, em um ciclo contínuo de autopromoção que raramente prioriza a qualidade artística. A pressão por relevância instantânea transforma a carreira em uma linha de produção de entretenimento — onde a música se torna um meio, e não mais o fim.
Muitos artistas compraram esse discurso — ou são obrigados por suas gravadoras a aderi-lo — porque precisam “jogar o jogo”. Mais do que nunca, arte e imagem estão atreladas. E, a partir do momento em que a segunda se tornou mais importante que a primeira, passamos a lidar com singles que ganham versões sped up, lyric video, visualizer, clipe, acústico, ao vivo, a capela, instrumental, remix e feat com algum nome hypado — tudo em questão de semanas e o suficiente para saturar o público até o próximo lançamento.
Por outro lado, ainda há quem resista a essa lógica e trate a música como expressão artística antes de qualquer estratégia de mercado. Nomes como Adele, Emicida e Damien Rice seguem o próprio ritmo, lançando álbuns apenas quando há algo genuíno a ser dito, sem se submeter à necessidade de presença constante.
Em contraste, músicos independentes ou de menor alcance — dependentes do retorno ínfimo do streaming — muitas vezes se veem obrigados a produzir incessantemente para tentar equilibrar as contas. Essa disparidade revela um mercado em que o valor simbólico da arte disputa espaço com a urgência da performance digital.
Pode parecer saudosismo da minha parte, mas esse formato se assemelha mais a um rolo compressor do que a algo positivo. Ainda que o streaming tenha ampliado o acesso, ele também pulverizou a atenção com a mesma velocidade. Isso faz com que o artista — antes dedicado à própria música — também tenha de equilibrar malabares nas redes em troca de um stream.
Se a forma de consumo é diferente, o comportamento de quem ouve também mudou. Para começar, tornou-se comum dizer “consumir música”, como se fosse um pão quentinho da padaria preferida. Para muitos, a música virou apenas uma trilha de fundo para qualquer atividade, perdendo-se um pouco da conexão que se poderia criar ao parar para ouvir um determinado álbum.
É claro que ninguém é obrigado a interromper os seus afazeres diários para ouvir o novo álbum da Marina Sena por completo tal qual os incas faziam há três décadas. O problema é que, ao se ter a música apenas como um plano de fundo, perde-se a conexão. Com isso, parece que estamos diariamente rodando pelos corredores da Riachuelo enquanto nos oferecem um novo cartão de crédito.

A imprensa entre o clique e o afago
Antes da pausa, lidar com a velocidade do consumo musical se tornou um problema para mim como editor do Audiograma.
Vivemos uma era em que a busca por likes e cliques pauta a comunicação. Cada vez mais, isso tem sido o norte da produção de conteúdo — o que resulta em textos piores, formatos empobrecidos e ideias rasas.
Por vários motivos, o chamado conteúdo “chapa-branca” se tornou frequente. O primeiro deles é a busca do fã por validação. Criou-se a necessidade do fã ter sua opinião confirmada por um veículo ou se sentir representado por ele. Não à toa, a Pitchfork decidiu fazer uma mudança simples, mas simbólica: a partir do ano que vem, quando completará trinta anos, o site passará a incluir notas dos leitores e uma seção de comentários em suas resenhas.
Conhecida por “mexer no vespeiro” dos fandoms, a publicação sempre foi amada e odiada na mesma medida. Nos últimos anos, as resenhas tornaram-se mais maleáveis nas notas — ainda que o texto siga incisivo. A chance de ver um álbum receber a avaliação que a Liz Phair recebeu pelo seu autointitulado disco de 2003 se tornou a mesma que a nota dada a aquele álbum: zero. Ainda que isso não influencie diretamente os jornalistas, a Pitchfork tenta, assim, reconquistar parte do público que se afastou por divergências de opinião.
Enquanto isso, na base da cadeia, há os veículos que ainda buscam um lugar ao sol. Todos querem ser lidos, certo? O resultado é que vemos cada vez mais resenhas que soam como releases de assessoria. Toda semana temos um álbum “disruptivo”, “ousado”, “magnífico”, “revolucionário” — e eu me pergunto: onde isso vai parar?
Com esse comportamento, o veículo conquista o fã que busca validação, o clique/like e, de quebra, o afago do artista. Inclusive, essa relação entre artista e imprensa tornou-se especialmente delicada nesta era de redes sociais. A crítica — antes vista como parte essencial do diálogo artístico — passou a ser encarada por muitos como uma ameaça à imagem, e não como um espaço de reflexão.
Acostumados à validação constante das redes, muitos artistas reagem mal a qualquer análise que não os reafirme. O que acaba por cultivar uma relação quase que infantil com a opinião pública: buscam o afago e rejeitam qualquer dizer que possa ser divergente. Nesse contexto, a imprensa perde espaço para o marketing e o debate cultural se empobrece, reduzido a elogios mútuos e postagens promocionais.
O que tudo isso quer dizer?
Com tudo isso pipocando na cabeça, como encontrar motivação para retomar um projeto com quinze anos de vida?
A sensação não é de terra arrasada, ao contrário do que possa parecer. No entanto, é a de navegar contra uma maré forte, que deixou para trás tudo aquilo que me fez querer falar sobre música: conversar com amigos, trocar dicas, ir a shows e, de fato, exercer um papel de curadoria — descobrir artistas, álbuns e boas histórias contadas através do som.
Ao longo do último ano, pensei em retomar o Audiograma algumas vezes. Em outras, achei que ainda havia coisas internas para resolver. Talvez eu só precise me desapegar do “ter que” e focar no que realmente me interessa nesse lugar de produtor de conteúdo musical. O que importa é que, por agora, estou disposto a tentar mais uma vez.